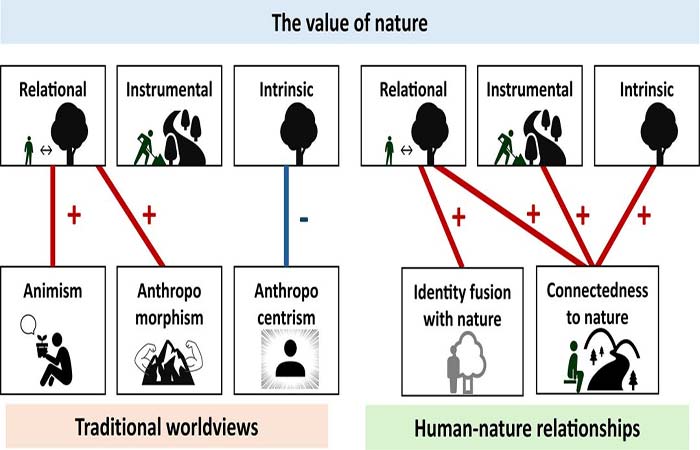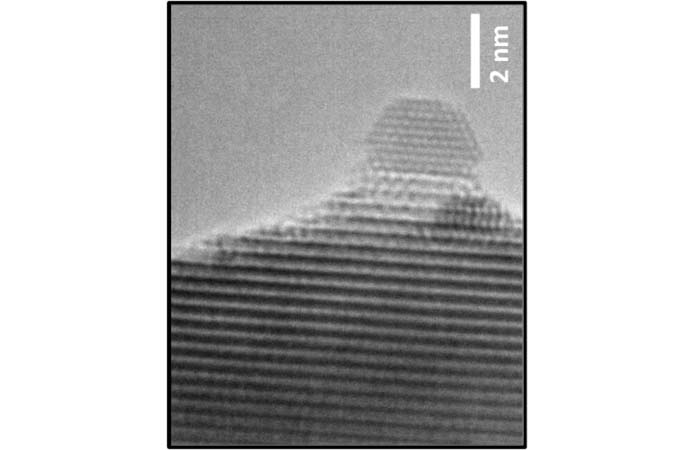Muito além da Amazônia, mulheres negras lutam por justiça climática nos 6 biomas brasileiros

Em seus territórios, mulheres negras transformam o enfrentamento ao racismo ambiental e estrutural em resistência e soluções concretas
As mulheres são as mais afetadas pela emergência climática por utilizarem e interagirem diariamente com os ambientes naturais, segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). Em áreas rurais e periféricas, elas coletam água para cozinhar e limpar, lenha para cozinhar e aquecer a casa, além de estarem à frente da agricultura. Dados do Instituto de la Mujer apontam que cerca de 80% das pessoas forçadas a se deslocar de suas casas devido às mudanças climáticas são mulheres. Não à toa, neste dia 20 de novembro, o tema da COP30 é Mulheres, Gênero, Pessoas Negras e Turismo.
No contexto brasileiro, essa sobrecarga é agravada pelo racismo ambiental e pelas desigualdades históricas. As mulheres negras, frequentemente na chefia das famílias, são responsáveis por garantir a subsistência e o cuidado do lar, muitas vezes localizado em regiões mais vulneráveis a eventos extremos. Segundo o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU (IPCC), a mortalidade por eventos climáticos extremos, como inundações e secas, foi 15 vezes maior em áreas mais vulneráveis na última década.
Essa difícil realidade, contudo, vem catalisando uma liderança estratégica. Em seus territórios, mulheres negras transformam o enfrentamento ao racismo ambiental e estrutural em resistência e soluções concretas. São elas as responsáveis pela gestão da água, dos alimentos, das ervas, da memória e da articulação política, fatores que asseguram a sobrevivência de suas comunidades, do Quilombo Kalunga, no Cerrado goiano, ao Ilê Aiê Orixá Iemanjá, no Pampa gaúcho.
A seguir, conheça as vivências e os projetos liderados por seis guardiãs dos biomas brasileiros. Elas demonstram que o caminho para a justiça climática passa necessariamente por reconhecer a sabedoria ancestral e a inovação social forjada por povos tradicionais na Caatinga, no Pantanal, no Pampa, na Mata Atlântica, no Cerrado e na Amazônia, palco da primeira COP realizada no Brasil.
Para dar força e escala a essas soluções, além de superar desigualdades de raça e gênero estruturais na sociedade brasileira, é necessário que o financiamento climático vá diretamente às comunidades afetadas, que devem ser priorizadas também pelas políticas públicas, apontam elas.
Dalila Reis Martins (Cerrado)
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_7d5b9b5029304d27b7ef8a7f28b4d70f/internal_photos/bs/2025/E/B/HolQ6YSAG32mWWePwaLQ/dalila-1-.jpeg)
Dalila Reis Martins, conhecida como Dalila Kalunga, tem raízes fincadas no maior quilombo do Brasil. Com cerca de 262 mil hectares e 39 comunidades, o território Kalunga está localizado na região da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. “Sua maior importância é que dentro dele tem uma das maiores caixas d’água do rio Tocantins, sem falar na quantidade de animais do bioma do Cerrado que estão em matas protegidas”, descreve. “A gente costuma falar que o Cerrado é a savana do Brasil, é uma terra supra-sumo, porque ela suga água e vai decantando aos pouquinhos para que todos nela possam sobreviver e matar a sua sede.”
O bioma é ainda a base da saúde e da espiritualidade quilombola, através das ervas usadas nas garrafadas, nos benzimentos e na parteria, além de sua importância econômica por meio do extrativismo e da agricultura familiar. “Associo todo o meu trabalho, meu ganha-pão ao meio ambiente”, exemplifica ela, que trabalha com design de biojóias, criadas a partir de sementes do Cerrado, e como guia de turismo, com idas à Cachoeira Santa Bárbara, em Cavalcante (GO). “Tenho que defender e proteger o território para que assim o meio ambiente me retorne.”
Para ela, ser uma liderança envolve colocar a mão na terra, praticando o plantio agrícola quilombola, que se baseia na milenar técnica de rotatividade de culturas, e estudar para reunir conhecimento técnico sobre as políticas das matas e da prevenção contra o fogo. “Se somos a base de uma pirâmide, a pirâmide só firma quando o nosso intelecto também é firme”, traduz.
Dalila observa que a crise climática torna o território cada vez mais semiárido e seco, com pouca chuva. Essa mudança impacta diretamente a segurança alimentar, causando escassez de alimentos e obrigando a comunidade a aproximar suas culturas das margens dos rios. A consequência é que os frutos do Cerrado estão cada vez mais escassos e caros.
Como patronas das famílias, as mulheres negras são as mais afetadas, sofrendo com problemas de saúde como pressão alta e anemia, e carregando a sobrecarga de cuidar dos outros mais do que de si mesmas, aponta a agroextrativista, educadora e mãe. Em resposta, elas lutam pelo reflorestamento e por mais conscientização ambiental, atuando como “mulheres semeeiras, sementeiras e extrativistas do Cerrado “, define.
Dalila se soma à comunidade em busca de soluções e se orgulha dos desafios já superados. “A minha conquista é manter as cachoeiras vivas, as florestas e matas ciliares em pé e o Cerrado intacto. Mas, infelizmente, essa luta não é só minha, é de muitos”, diz. “A gente não devia nem estar lutando por isso. As pessoas deveriam se envergonhar de destruir a natureza, destruir a própria vida, mas, enfim, tem muitos gananciosos.”
Dentre as soluções implementadas no Quilombo Kalunga, destacam-se o Jardim do Éden, um projeto de reflorestamento que realoca mudas das roças para áreas degradadas, e as brigadas Prevfogo. O quilombo atualmente busca parcerias com agentes ambientais para proteger os animais do Cerrado, vítimas de queimadas e atropelamentos.
Dalila defende que, para o território ganhar mais força, o governo precisa cumprir os direitos já estabelecidos no Decreto 4887, que regulamenta a titulação de terras de comunidades quilombolas no Brasil. A liderança do Quilombo Engenho II aponta que, à revelia da lei, são negados à comunidade direitos essenciais como o saneamento básico.
Sobre o futuro das negociações climáticas, Dalila é cética: “Minha expectativa é ladeira abaixo. Estão usando a COP30 como comércio”. A liderança critica o fato de que as populações à frente dos projetos que realmente protegem os biomas, como as quilombolas, não conseguem estar presentes no evento por limitações financeiras.
Sandrali de Campos Bueno (Pampa)
“Tenho um amigo baiano que diz que o Rio Grande do Sul, o Pampa, é onde o céu encontra a Terra. É exatamente isso: o bioma traz essa sensação de imensidão, de um horizonte amplo, longínquo, que a gente vislumbra”, resume Sandrali de Campos Bueno, a Ìyá Sandrali de Oxum, ialorixá responsável pelo terreiro de candomblé Ilê da Oxum Apará, em Pelotas (RS).
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_7d5b9b5029304d27b7ef8a7f28b4d70f/internal_photos/bs/2025/N/w/qvR5ErTbe5GLTkim3DWQ/sandrali-acervo-pessoal-1-.jpeg)
A também psicóloga e ativista pontua que o bioma é um dos mais vastos e heterogêneos do país, com 178 km quadrados de área e 300 mil espécies vegetais, muitas das quais são essenciais para o sagrado das tradições locais de matriz africana. Outro destaque é o Aquífero Guarani, uma das maiores reservas subterrâneas de água potável do mundo.
O bioma, porém, é o segundo mais devastado do país, segundo a liderança religiosa, e tem como principais fontes de desmatamento a monocultura e a especulação imobiliária, agravando as consequências da mudança do clima. A crise climática se coloca como uma ferida no corpo sagrado da comunidade de terreiro, aponta. “Cada árvore tombada, cada árvore ferida, é a mesma coisa que ferir o nosso próprio corpo. Cada corte numa árvore é um corte na nossa humanidade, na nossa habilidade de nos relacionar com a natureza”, lamenta.
As enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul atingiram cerca de 800 terreiros, expondo não só perdas materiais, mas também espirituais, em áreas historicamente menos favorecidas. “Até agora, a gente está esperando a reconstrução dos terreiros que foram destruídos.” Para enfrentar o racismo e a intolerância religiosa que alegam que as inundações seriam “castigo divino”, Sandrali rebate categoricamente: “Não existe castigo divino. O que existe são consequências por falta de cuidados e de políticas públicas”.
Como solução, ela, junto ao Conselho do Povo de Terreiro, mapeiam as necessidades e buscam recursos para a reconstrução. Sandrali ressalta, porém, que reconstruir um terreiro não se trata apenas de “levantar paredes”, já que envolve “retomar o sagrado” e “reafricanizar o que foi destruído”.
As mulheres negras, as mais afetadas pelas consequências de eventos climáticas extremos por estarem na base da pirâmide social, são, ao mesmo tempo, as que têm “a maior habilidade de se constituir enquanto modelos de sobrevivência, de como se manter e trabalhar em comunidade para superar essas mazelas”, observa Sandrali, ponderando que é preciso fortalecer essa capacidade por meio de políticas públicas voltadas a elas.
“As mulheres negras têm mantido tecnologias ancestrais no enfrentamento dessas questões”, diz. Como exemplo, a também escritora menciona a oficina literária de proteção ambiental que desenvolveu, resultando na publicação do livro “Terra – Nós só temos um planeta para viver”, que reúne denúncias e aponta saídas. “A grande saída ainda está nos povos originários, nos povos tradicionais, mas a luta é muito intensa. O futuro vai depender da gente olhar para trás, construir no presente esse futuro que está tão ameaçado.”
Ellen Monielle (Caatinga)
A Caatinga não é apenas uma paisagem ou um pano de fundo, mas a estrutura do modo de viver dos povos que nela habitam, acredita Ellen Monielle, co-fundadora e diretora de pesquisa em Clima e Sustentabilidade do Palmares Lab. Preservado, o bioma garante equilíbrio hídrico, segurança alimentar, com espécies nativas como mandacaru e caju, e a saúde, ofertando plantas medicinais, como aroeira e juazeiro.
Na educação, escolas rurais integram a Caatinga ao currículo, fortalecendo o sentimento de pertencimento e mostrando que ciência e cultura local devem caminhar juntas pelo meio ambiente. “É dela que vem alimentos adaptados ao semiárido, biodiversidade medicinal, saberes de convivência com o clima e também a base de uma economia que depende cada vez mais de diversidade”, define Ellen, que vive em Natal, no Rio Grande do Norte. “Cuidar da Caatinga é cuidar do corpo, da mente, da comida, da identidade de quem vive aqui.”
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_7d5b9b5029304d27b7ef8a7f28b4d70f/internal_photos/bs/2025/p/q/ZaFGqVTMmDZWVi2phBLw/ellen-monielle-credito-gilbealisson.silva.jpg)
No estado potiguar, o bioma sofre com o regime de chuva irregular e calor intenso, que geram incertezas nos ciclos de plantio e acentuam a insegurança alimentar. “São colheitas menores, aumento de casos de insolação, de doenças inspiratórias e até mudanças no comportamento de animais”, elenca. A situação é registrada por monitoramentos que unem os saberes popular e científico. “Muitas comunidades têm registrado volume de chuvas, perda de safras, e isso complementa os dados técnicos de instituições mais robustas.”
Ellen atua para desmantelar a narrativa de escassez historicamente associada ao bioma e afirma que a Caatinga, na verdade, é um “laboratório de resiliência, resistência e de inovação”. Sua motivação como comunicadora negra da periferia do Nordeste e pesquisadora é traduzir o conhecimento local e científico em propostas concretas para espaços de decisão.
Entre os projetos desenvolvidos por ela no Palmares Lab estão a consolidação de projetos de formação territorial no Nordeste e a produção de materiais que aproximam o público de temas técnicos através de uma “linguagem mais popular”. Seu trabalho consiste em transformar o conhecimento adquirido na Caatinga em “argumento, em dado e proposta”.
Ellen luta por apoio financeiro direto que contribua para escalar soluções locais, além de acesso a políticas públicas que incentivem a produção agroecológica local, energia limpa e justa e inclusão digital. “É preciso garantir que o desenvolvimento não signifique a expropriação de quem vive e está na luta protegendo o bioma”, alerta.
Para a COP30, apesar de o foco estar na Amazônia, ela espera que o semiárido nordestino e a Caatinga não fiquem de fora, sendo reconhecidos como territórios prioritários para adaptação, garantindo que o financiamento climático chegue “de fato nas mãos de quem já está fazendo a diferença”.
Por serem gestoras de água, da comida, da memória e da articulação política, as mulheres negras são protagonistas nas soluções, representando o elo entre conhecimento ancestral e inovação social, aponta Ellen. “Elas tecem redes, teias. Em cada comunidade há mulheres que transformam o manejo da Caatinga em estratégia de sobrevivência e de futuro”, diz. “Elas são fundamentais para que a transição climática seja justa e centrada na vida.”
Ediane Lima (Amazônia)
A luta de Ediane Lima por justiça climática começou com um deslocamento forçado durante sua infância no município de Melgaço, na Ilha do Marajó (PA). “Eu tive que mudar da minha comunidade quando eu tinha 12 anos porque precisava estudar. A minha escola só tinha o teto, não tinha parede, não tinha cadeira e funcionava apenas até o quinto ano”, relata.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_7d5b9b5029304d27b7ef8a7f28b4d70f/internal_photos/bs/2025/x/n/FL70lAQya2kSpYmrY5Wg/ediane-lima2-acervo-observatorio-do-marajo.jpeg)
Ela foi morar com a avó em um centro urbano, distante de sua terra natal e de seu modo de vida, movimento que logo foi seguido pelo restante da família. Mas Ediane sabia que um dia devolveria seu conhecimento ao território tradicional, à beira rio Coacoajó, para onde almejava voltar. A experiência de “resistir para existir” moldou sua visão sobre a luta climática, que, para ela, deve começar pela reparação dos territórios tradicionais. Ediane se formou em agroecologia e atualmente atua como gestora de projetos no Observatório do Marajó, no Pará, onde lidera projetos que visam a incidência política e o monitoramento cidadão.
A especialista ribeirinha observa que a Amazônia sofre com mudanças bruscas no clima: marés altas e alagamentos no inverno causam perdas de plantações, inundações de casas e falta de energia. Já o verão tem trazido mais secas, calor extremo e queimadas que geram problemas de saúde na população. “Em uma região majoritariamente negra e rural, muitas mulheres estão na linha de frente da criação de seus filhos, dos cultivos agrícolas e são as primeiras a sentirem estes impactos”, ressalta.
Em resposta, o Observatório do Marajó implementa o Monitoramento Cidadão de Calamidades Climáticas, onde Ediane atua como gestora de projetos, realizando levantamentos quinzenais com lideranças locais para evidenciar os eventos climáticos e pressionar os tomadores de decisão a criarem planos de adaptação. Os dados são transformados em boletins divulgados publicamente nas redes do projeto.
Outra solução em destaque é o Projeto Filhas da Mãe do Fogo, que desde 2021 oferece formações de brigadas voluntárias e manejo integrado do fogo. “Já realizamos quatro formações de brigada voluntárias e outras formações no contexto do manejo integrado do Fogo”, contabiliza. “Hoje eu tenho articulações com grupos dos 17 municípios do Marajó, e também com outras organizações de fora do território através dos projetos que a gente realiza com o Observatório do Marajó.”
Em ano de COP30, realizada no Brasil e na Amazônia pela primeira vez, a iniciativa lançou no dia 7 de outubro a avaliação Índice de Transparência e Governança Pública das 17 prefeituras do Marajó com foco na adaptação climática. “O objetivo é avaliar como os municípios marajoaras estão se preparando para as mudanças climáticas, estimular a participação, a acompanhar e incidir por estes planos de ação nos territórios.”
Ediane enfatiza que as mulheres negras possuem um papel primordial na busca por soluções, pois lideram movimentos sociais e coletivos que buscam direitos nos territórios. E ressalta a importância de investimento financeiro comunitário na Amazônia. “Financiamento climático precisa ser investido nos territórios, nas soluções baseadas na natureza que os povos e comunidades tradicionais já desenvolvem há anos”, diz. “Petróleo não é solução, mercado de carbono não é solução.”
Entre as soluções seculares realizadas pelas comunidades, Ediane destaca os sistemas agroflorestais e o manejo de açaí-açu. “As comunidades não retiram tudo da natureza, apenas o suficiente para seu sustento. Essa relação das comunidades tradicionais com o meio ambiente deveria ser valorizada porque se não fosse isso, provavelmente o mundo não existiria mais, não teríamos mais a Amazônia com suas diversidades de povos e florestas.”
Naira Santa Rita Wayand (Mata Atlântica)
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_7d5b9b5029304d27b7ef8a7f28b4d70f/internal_photos/bs/2025/j/b/jdBKnpSquGyZg3RCwJ7w/naira2.jpg)
A Mata Atlântica, coração de Petrópolis (RJ), é essencial para o bem viver de seus mais de 290 mil habitantes. “Esse bioma desempenha um papel vital na regulação hídrica, alimentando rios e nascentes que abastecem famílias, plantações e áreas urbanas, oferecendo ar limpo e um clima mais ameno”, elenca Naira Santa Rita Wayand, especialista em sustentabilidade e clima.
Petrópolis é ainda conhecida como “cinturão verde” da região serrana do Rio, respondendo por cerca de 80% das frutas, hortaliças e legumes produzidos no estado. “Além da agricultura, a Mata Atlântica sustenta o turismo ecológico, com destaque para o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que conecta trilhas, cachoeiras e áreas de preservação”, afirma. “Quando há degradação socioambiental, essa teia se rompe de forma dramática.”
Em 2022, Petrópolis (RJ) foi devastada por chuvas extremas e deslizamentos. O evento causou mais de 230 mortes e deixou cerca de 3 mil famílias desabrigadas e deslocadas, dentre elas, a de Naira. “As mudanças climáticas não são abstratas: elas atingem vidas, territórios e direitos básicos de forma imediata e brutal”, alerta.
No dia a dia, as mudanças no clima acentuam insegurança alimentar, dificuldade de acesso à água potável, saneamento básico e o medo de novos eventos climáticos extremos. Nos últimos cinco anos, as chuvas estão mais intensas e frequentes, as secas, prolongadas, comprometendo colheitas e espalhando doenças. “Esses impactos são mensurados por registros comunitários, dados meteorológicos e relatos de famílias afetadas, evidenciando uma piora ano a ano”, conta.
A comunidade tem mostrado resiliência e organização diante dos desafios impostos pela mudança climática. Após os eventos extremos de 2022, surgiram iniciativas comunitárias como grupos de agricultura urbana e agroecológica, mutirões de limpeza e recuperação de nascentes e encostas, promovendo restauração ambiental, redes de solidariedade que garantem apoio emergencial a famílias atingidas, além de ações de educação ambiental e compartilhamento de saberes tradicionais sobre manejo de água, conservação do solo e uso de plantas medicinais.
A experiência como sobrevivente e deslocada climática, além do exemplo da solidariedade comunitária, foram cruciais para que Naira se somasse à busca por soluções. Foi assim que ela fundou o Instituto DuClima, com objetivo de que a agenda climática brasileira deixasse de ser conduzida por uma “bolha restrita, branca e elitista”, e passasse a contemplar a vivência de comunidades e grupos diretamente afetados pela crise climática.
A iniciativa liderou a elaboração do Projeto de Lei 1594/2024, protocolado na Câmara dos Deputados, que busca estabelecer a primeira política nacional voltada para deslocados climáticos no Brasil. O projeto reconhece essas pessoas como sujeitos plenos de direitos, promovendo a proteção e inclusão efetiva. Protocolado no ano passado pela deputada federal Érika Hilton, o texto ainda não foi votado. Mas o instituto, formado majoritariamente por mulheres negras, alimenta a convicção de que, se sancionado, ele ajudará milhões de pessoas e abrirá precedentes na agenda global.
Para Naira, as mulheres negras estão na linha de frente da crise climática e seu protagonismo “segue sendo estratégico e vital”. “Elas mantêm a vida, protegem o território, enfrentam o racismo ambiental e transformam vulnerabilidade em resistência” e “assumem papéis de liderança invisível nas comunidades, articulando com solidariedade, mobilizando recursos e garantindo a sobrevivência coletiva”, completa.
O Instituto DuClima, institucionalizado em 2024, atua com advocacy e pesquisa, buscando “amplificar essas vozes, colocando os grupos afetados no centro do debate e das soluções”. Além disso, Naira se preocupa em desmistificar a agenda climática, traduzindo conceitos técnicos em linguagem popular, uma prática que ela considera ser uma “provocação contra a colonialidade do conhecimento”.
Segundo ela, sem o investimento de recursos financeiros e técnicos em soluções locais que respeitem saberes tradicionais, garantam segurança alimentar, proteção socioambiental e valorizem o protagonismo feminino negro, indígena, quilombola, caiçara, o bioma e as comunidades que dele dependem continuarão sendo sistematicamente vulnerabilizados.
“Para a COP30, espero que haja reconhecimento concreto dessas lideranças, financiamento climático adequado para iniciativas de base e inclusão de pautas de justiça racial, de gênero na agenda climática internacional — não apenas como discurso, mas como ação”, afirma. “Essas mulheres devem ser vistas e consideras como protagonistas das soluções climáticas do nosso presente para que tenhamos oportunidade de futuro.”
Edinalda Pereira do Nascimento (Pantanal)
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_7d5b9b5029304d27b7ef8a7f28b4d70f/internal_photos/bs/2025/2/O/4rWRnfTZqIkWwZ3t1ymQ/edinalda3.jpeg)
Natural da comunidade tradicional Acorizal, no município de Barão de Melgaço (MT), Edinalda Pereira do Nascimento tem notado que as atividades que seus avós e pais realizavam no Pantanal têm ficando cada vez mais difíceis. “Por exemplo, nossa roça era plantada quando passava a cheia, o solo ficava adubado natural, hoje não temos mais as cheias. Pelo contrário, está secando rios, baías e poços, os peixes estão escassos, dentre outros tantos impactos.”
O Pantanal vem perdendo área úmida devido a secas mais duradouras e grandes incêndios, como os de 2020 e 2024, impactando a segurança alimentar. “A maior área úmida contínua do planeta está perdendo força e seus guardiões são os principais impactados”, aponta. Essa perda do ciclo das águas, essencial para o modo de vida pantaneiro, motivou Edinalda estudar Engenharia Ambiental e a se engajar nos movimentos sociais.
Atualmente residindo em Cáceres (MT), ela é titular no Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, dando visibilidade aos desafios do território. Edinalda atua ainda no Conselho Estadual de Mato Grosso de Povos e Comunidades Tradicionais, no Fórum de Mudanças Climáticas do Estado de Mato Grosso e no Fórum Popular Ambiental.
Secretária executiva da Rede de Comunidades Tradicionais Pantaneira, ela conheceu o trabalho do coletivo por meio de um curso de educação ambiental, entrando em 2019 como voluntária. “Já tinha essa questão ambiental persistindo, a gente percebia as mudanças que aconteciam nas comunidades e queria fazer alguma coisa, mas não sabia como”, conta. “Na rede, nos aprofundamos sobre o que são comunidades tradicionais, quais direitos a gente tem. Através disso, a gente se fortaleceu e hoje buscamos reconhecimento, reforçar a nossa identidade e o acesso a políticas públicas.”
As mulheres, lideranças na defesa de suas comunidades, são majoritariamente responsáveis pelos projetos e as articulações na rede. Como Edinalda, elas aplicam sua observação sobre as dificuldades ancestrais na busca por soluções coletivas. Além de participarem de atividades como o plano de adaptação das mudanças climáticas, elas investem em agroecologia.
É o caso da implementação do Viveiro Velho do Rio, que apoia a restauração das áreas impactadas pelos incêndios, além de hortas e sistemas de água e floresta para mitigar os impactos das mudanças climáticas.
O maior desafio, aponta Edinalda, é fazer com que o apoio financeiro chegue à base. Já a “principal conquista está no fortalecimento das comunidades, dizendo que nós existimos”, arremata. Ela reforça que os recursos muitas vezes ficam nas mãos de grandes ONGs e do governo, sem chegar a quem realmente faz a diferença.
“O protagonismo das mulheres é a principal linha de defesa do bioma Pantanal, e o empoderamento de jovens e a garantia das próximas gerações. Nossa expectativa é poder somar na luta para o enfrentamento das mudanças climáticas”, diz Edinalda, que espera que os acordos firmados na COP30 tenham um “olhar especial para as comunidades tradicionais e locais, entendendo que nós somos a solução”.