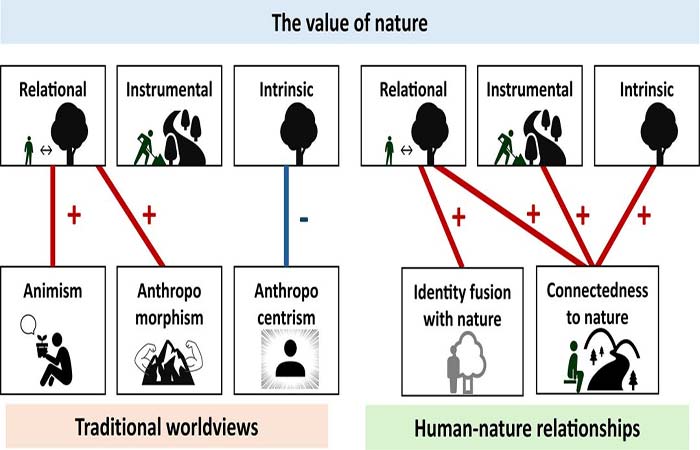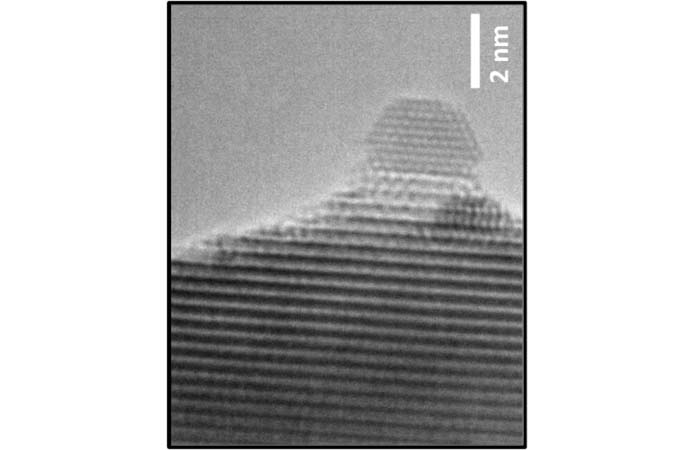Consertar a Terra ou transformar o sistema-mundo?
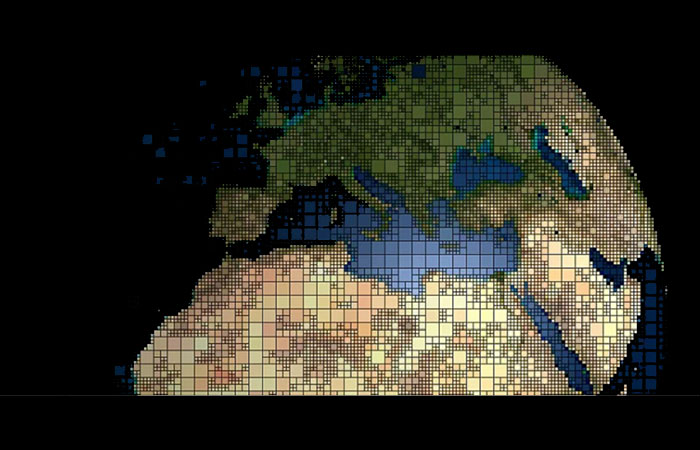
“Encontramo-nos diante de um desencontro aniquilante e ao mesmo tempo paralisante entre as evidências científicas sobre os limites planetários que ameaçam a continuidade dos ecossistemas, biodiversidade e da vida humana e de outras espécies na terra, e as formas de ação política que possam corresponder a essas evidências”, afirmou a antropóloga Alana Moraes, professora da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, ao analisar o tema Elites globais: tecno-otimismo e negacionismo climático, no quinto encontro da série de debates [online] Tecnologia e Ecologia: rupturas e imbricações.
A iniciativa do Centro de Promoção de Agentes de Transformação – CEPAT conta com a parceria e o apoio do Instituto Humanitas Unisinos – IHU e do Departamento de Ciências Sociais, da Universidade Estadual de Maringá – UEM. A série de debates busca aprofundar as temáticas socioambientais com ênfase nas relações entre tecnologia e ecologia, com suas rupturas e imbricações, buscando analisar facetas dos principais desafios da condição humana no mundo.
Alana Moraes iniciou o debate dizendo que a inevitabilidade da transição energética se tornou a nova narrativa dominante no capitalismo global, substituindo o negacionismo climático por um “consenso da descarbonização“. Esta mudança, no entanto, não representa uma ruptura com o modelo extrativista, mas, sim, sua reconfiguração e expansão para novas fronteiras de acumulação.
 Série de debates ‘Tecnologia e Ecologia: rupturas e imbricações’, com o tema ‘Elites globais: tecno-otimismo e negacionismo climático’
Série de debates ‘Tecnologia e Ecologia: rupturas e imbricações’, com o tema ‘Elites globais: tecno-otimismo e negacionismo climático’
Diferente dos anos 1990, quando a indústria fóssil investia pesado no ceticismo climático, os fluxos de capital são agora direcionados massivamente para o mercado da transição energética. Esse movimento, porém, dá origem ao que a antropóloga categoriza como um “colonialismo energético” ou “extrativismo verde“, alimentado pela demanda por minerais críticos e terras raras. Moraes avalia que os impactos se materializam nos territórios sob a forma de financeirização da terra, novos ciclos de contaminação e disputas socioterritoriais, configurando uma nova geopolítica da transição que envolve Estados e corporações.
Paralelamente, e de forma não excludente, a indústria fóssil não apenas mantém, mas expande sua operação. Em 2024, o uso de combustíveis fósseis atingiu um recorde histórico, sustentado por subsídios públicos que, segundo o FMI, alcançaram a cifra de US$ 7 trilhões em 2022. Vivemos, portanto, uma singular e crítica conjuntura de expansão energética dupla, renovável e fóssil, que avançam simultaneamente, desmentindo a ideia de uma transição onde uma substitui a outra.
Duas respostas à crise: consertar a Terra ou transformar o sistema-mundo?
A partir do paradigma apresentado no panorama inicial, Alana Moraes observa que, diante desta encruzilhada, duas grandes respostas políticas são apresentadas. A primeira, articulada pelas elites tecnológicas globais – com forte influência do Vale do Silício e de bilionários como Jeff Bezos, Elon Musk e Bill Gates – propõe um projeto tecno-eco-reparador, que se apresenta como saída para “consertar a Terra”. Esta visão hegemonizada por bilionários é conhecida como ecomodernismo, conceito que define a crença de que a inovação científica e tecnológica é crucial para superar os limites planetários e permitir a continuação ilimitada do crescimento capitalista. Para essa elite, a “crise ambiental” constitui um consenso a partir do qual se pode promover uma transição do capitalismo fóssil para um capitalismo cibernético, mantendo intacto o paradigma da expansão e do desenvolvimento infinito.
A segunda resposta, filiada às tradições ecossocialistas e movimentos sociais, defende uma transição justa e uma democracia energética. Para Moraes, este campo heterogêneo, apesar de reivindicar uma ideia de justiça socioambiental, desconsidera um aspecto importante do próprio problema, o fato de que a crise socioecológica não é um desvio, mas sim o produto direto do projeto de modernização. Portanto, não se trata de incluir sujeitos e biomas nesse projeto de desenvolvimento, mas de transformar radicalmente a própria concepção de progresso. Isso implica democratizar a governança climática global, promover infraestruturas energéticas distribuídas e não concentradas, e centrar a justiça socioambiental em respostas locais e territorializadas.
Os limites da governança global e a força das lutas territoriais
Um dos maiores desafios, segundo esta perspectiva crítica apresentada por Moraes, é desvincular a ideia de democracia e progresso da “política fóssil“. A antropóloga afirma que as atuais estruturas de governança, como as COPs e Fóruns Internacionais, não apresentam soluções, mas servem como instrumentos que consolidam a aliança entre Estado e capital na gestão da crise, bloqueando a possibilidade de uma verdadeira “política da Terra”.
 Série de debates ‘Tecnologia e Ecologia: rupturas e imbricações’, com o tema ‘Elites globais: tecno-otimismo e negacionismo climático’
Série de debates ‘Tecnologia e Ecologia: rupturas e imbricações’, com o tema ‘Elites globais: tecno-otimismo e negacionismo climático’
A esperança, no entanto, emerge da observação dos conflitos socioterritoriais. Coletivos, povos indígenas, comunidades tradicionais e camponesas estão na linha de frente, defendendo modos de vida baseados em redes de reciprocidade multiespécies, memória e alianças que transcendem a lógica da mercadoria. Estas lutas mostram que a preservação da vida depende da coexistência, apresentando alternativas concretas aos discursos hegemônicos de transição. Estes povos não só resistiram ao projeto modernizador que previa seu desaparecimento, como desenvolveram a prática de “tecnologias para a suficiência” que fortalecem a autonomia, a diversidade e a preservação dos territórios.
Alana afirma que “observando a forma como as pessoas vem defendendo seus modos de vida, a força dessas lutas mostra o que escapa dos circuitos do monopólio do capital. Tem a ver com a defesa da memória e de redes extensas de preservação multiespécies, com a constatação de que o que permite a preservação de um território é a coexistência entre humanos e outras espécies.”
Cinco problemáticas centrais para repensar a transição
Apresentando uma síntese do debate, a debatedora elenca cinco questões para analisar a questão da transição energética:
1. O peso do passado: Nossa vida é estruturada por decisões energéticas e de desenvolvimento que foram tomadas no passado. Além disso, o poder do atual modelo de produção capitalista é logístico e está embutido nas infraestruturas que sustentam nosso cotidiano. Portanto, temos muita dificuldade de pensar outros mundos fora do atual modelo societal;
2. A ideia intocável de progresso: O consenso em torno da expansão e do crescimento como sinônimos de bem-estar, compartilhado pela esquerda e a direita no século XX, precisa ser urgentemente questionado;
3. A democracia fóssil: As formas de representação ligadas ao Estado-nação estão comprometidas com o modelo extrativista. É preciso questionar se a soberania nacional, tal como concebida, é o caminho para a justiça social frente a projetos de desenvolvimento predatórios;
4. O problema de escala: Como articular respostas políticas que conectam o local ao planetário, recusando-se a resolver problemas criados por um sistema do qual não queremos fazer parte?
5. O conhecimento dos povos tradicionais: São essas populações que apresentam tecnologias sociais e arranjos baseados no bem comum e na coexistência multiespécie, oferecendo caminhos alternativos concretos.
Para Alana Moraes, o desafio final colocado é se estamos dispostos a acelerar o “apodrecimento” das estruturas de governança global e da própria ideia moderna de progresso, em vez de demandar inclusão em um projeto que está na raiz da catástrofe. A alternativa estaria em forjar alianças entre saberes tecnológicos e soluções locais, construindo arranjos sociotécnicos que priorizem a autonomia, a suficiência e o bem-estar verdadeiro, desconectados da ficção da expansão infinita. Moraes conclui que “precisamos agora de uma transformação ágil, muitos relatórios demonstram que a próxima década será crucial para uma mudança possível, mas precisamos de outras imaginações sobre o que é uma mudança sistêmica“.