Compostos químicos capazes de capturar gases e água rendem Nobel de Química
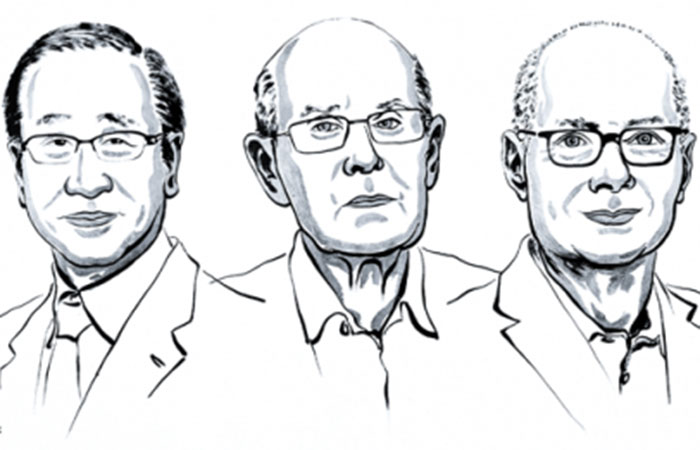
Aplicações práticas de estruturas metalorgânicas (MOF, na sigla em inglês) incluem produzir água potável a partir do ar em zonas desérticas, extrair terras-raras de rejeitos e retirar contaminantes da água
O japonês Susumu Kitagawa, o britânico Richard Robson e o jordaniano naturalizado norte-americano Omar Yaghi desenvolveram uma nova forma de arquitetura molecular e levaram o Prêmio Nobel de Química deste ano, concedido pela Real Academia de Ciências da Suécia. As estruturas metalorgânicas (MOF, de metal-organic frameworks) são compostas por íons metálicos (átomos de metal com carga elétrica positiva) conectados por moléculas orgânicas de maneira a formar cristais com amplos espaços internos. Eles são capazes de captar e armazenar substâncias, além de estimular reações químicas e conduzir eletricidade. As aplicações práticas incluem produzir água potável a partir do ar em zonas desérticas, captar gás carbônico (CO2), extrair terras-raras de rejeitos e retirar contaminantes da água. Os pesquisadores, hoje, respectivamente, com 74, 88 e 60 anos, dividem em partes iguais o prêmio de 11 milhões de coroas suecas, aproximadamente R$ 6,23 milhões.
Preparando bolas e hastes para estudantes montarem modelos moleculares em uma atividade didática em 1974, Robson, da Universidade de Melbourne, na Austrália, percebeu a importância das propriedades de ligação entre os átomos – no caso, o posicionamento dos furos nas bolas onde as hastes seriam encaixadas. Ele começou a pensar em como essas propriedades permitiriam conectar moléculas para criar novas construções químicas. A partir dessa ideia simples, em 1989 ele tentou criar uma variante da estrutura do diamante, substituindo átomos de carbono por íons de cobre e moléculas que tinham quatro braços. O resultado foi um cristal ordenado com cavidades espaçosas. Em um fluido, íons conseguiam entrar e sair dessas cavidades, cujo formato poderia ser otimizado para receber substâncias específicas, mas a construção era instável e se desmontava facilmente.
O problema foi resolvido, separadamente, pelos outros dois laureados. Kitagawa, atualmente na Universidade de Kyoto, no Japão, começou em 1992 a construir estruturas usando componentes semelhantes aos de Robson, sem a preocupação de aplicação prática. O importante era pensar a química de maneira nova. Seus achados foram vistos como inúteis, até que em 1997 ele conseguiu construir estruturas metalorgânicas que, quando a água lhes era retirada, conseguiam capturar e liberar gases como metano, oxigênio e nitrogênio. Ele também conseguiu, mais tarde, produzir cristais flexíveis, que se dilatam quando cheios e voltam a encolher quando se esvaziam.
O grupo de Yaghi, atualmente no campus de Berkeley da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, chegou em 1995 a uma estrutura bidimensional com junções de cobalto, capaz de armazenar moléculas com tanta estabilidade que podia ser aquecida a 350 °C sem perder as propriedades. Foi ele que cunhou, no artigo que descreveu o achado, o termo metal-organic framework. A estrutura que ele anunciou em 1999 conseguia ser estável a 300 °C mesmo vazia e ganhou fama pela proeza de, em poucos gramas – descrito no anúncio do Nobel como o tamanho de um torrão de açúcar –, ter uma superfície equivalente a um campo de futebol. Conseguia, portanto, armazenar um grande volume de gás.
Com a diversidade de aplicações que a conquista traz, Yaghi fundou a empresa Atoco (junção de “átomo” e “companhia”), que busca soluções inovadoras para colher água e capturar carbono. Ambos são problemas centrais neste momento de emergência climática. A engenheira química Liane Rossi, do Instituto de Química da Universidade de São Paulo (IQ-USP), também se dedica a buscar formas inovadoras de remover gases estufa da atmosfera, e por isso recentemente foi reconhecida pela Casa Real Sueca com a cátedra Rei Carl XVI Gustaf em Ciências Ambientais. “Estamos em um estágio ainda inicial do uso de MOF para desenvolver sistemas de adsorção de gases como hidrogênio [H2] e CO2”, conta Rossi. Seu grupo já selecionou alguns compostos, entre milhares de possibilidades em bancos de dados, e estão em uma fase de transição entre a síntese em escala de laboratório para uma produção maior empregando a mecanoquímica, um método de produção que usa força mecânica, como a moagem, para promover a formação mais rápida dos MOF sem a necessidade de solventes. “Estamos trabalhando para obter materiais com a mesma qualidade daqueles produzidos por métodos tradicionais, que usam solventes ou altas temperaturas”, diz Rossi.
Em fase mais avançada, Rossi lidera um estudo em uma área onde os MOF são menos reconhecidos: aplicações agrícolas. O projeto, em parceria com o engenheiro-agrônomo José Marques Júnior, do campus de Jaboticabal da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e duas startups (Quanticum e Moftech), busca usar essas construções moleculares para condicionar o solo. “Até onde sei, somos o primeiro grupo testando os efeitos desses materiais na produção de cana-de-açúcar”, conta Rossi. A ideia foi selecionar um MOF à base de componentes que não fossem estranhos ao solo, evitando qualquer contaminação, e até ajudassem na recuperação das funções ecossistêmicas do solo, como ferro, nitrogênio, fósforo e carbono. O grupo então desenvolveu uma metodologia para produzir o composto na escala de quilogramas, em vez de gramas, conforme o necessário para os testes agronômicos, usando uma extrusora de dupla rosca, máquina que permite a produção contínua do material.
O material obtido, em pó, foi misturado ao solo para ensaios em casa de vegetação na Unesp, onde os pesquisadores estão medindo vários parâmetros da qualidade do solo, especialmente como as plantas estão respondendo em termos de eficiência na fotossíntese, com aumento na produção de biomassa, de clorofila nas folhas e de açúcar. “Também estamos avaliando a capacidade de armazenamento de carbono no solo”, afirma a pesquisadora. “Um solo mais saudável estabiliza formas estáveis de carbono, contribuindo para a redução das emissões de CO2.” A patente para o modo de produção do composto já está depositada. O primeiro projeto é conduzido no âmbito do Centro de Inovação em Tecnologia Offshore (OTIC) e o segundo faz parte do Centro de Pesquisa para Inovação em Gases de Efeito Estufa (RCGI), ambos fruto de parceria entre a USP, a FAPESP e a empresa energética anglo-holandesa Shell.
Outro uso bem prático é a captura e a degradação de poluentes na água. É o que faz o grupo da engenheira química Christiane Arruda, do campus de Diadema da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). “Produzimos MOF usando diferentes técnicas de desenvolvimento”, explica ela. Uma das possibilidades é associar à estrutura metalorgânica – que captura em sua rede tridimensional compostos como fármacos, hormônios ou substâncias que conferem sabor de terra ou mofo à água – compostos com ação fotocatalítica capazes de quebrá-los com estímulo luminoso. Esse processo permite concentrar contaminantes mesmo que estejam em baixa concentração na água de abastecimento e eliminar a toxicidade ou o sabor. O próximo passo é integrar esse sistema químico em um pequeno reator a ser testado com a Sabesp, a companhia de fornecimento de água e saneamento de São Paulo, como parte de projeto em parceria com a FAPESP. “Fiquei feliz com o reconhecimento dado a essa área, que está aumentando muito a eficiência de uma diversidade de processos”, celebra Arruda.
“O grupo de pesquisa de Yaghi tem um nível muito avançado no desenvolvimento de nanoestruturas catalíticas, com pesquisa inovadora e muito disruptiva”, avalia a química Joyce Araújo, da Divisão de Metrologia de Materiais do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Ela e o colega Braulio Archanjo passaram um ano em Berkeley para um estágio de pós-doutorado com o químico húngaro Gábor Somorjai (1935-2025), que trabalhava em parceria com Yaghi, e acabaram sendo convidados para contribuir com medições de análise química e microscopia eletrônica de transmissão em um estudo sobre nanocristais de cobre e zircônio. “Exigia um rigor metrológico muito alto, era desafiador detectar as partículas que existiam em concentrações muito baixas”, lembra ela. Archanjo usou microscopia eletrônica para caracterizar as nanopartículas. O artigo resultante foi publicado em 2016 na revista científica Nanoletters e é o mais citado da carreira de Araújo, com cerca de 500 citações.
“É realmente o sonho dos químicos, conseguir construir estruturas químicas com um enfoque de blocos de construção”, disse Yaghi ao jornalista Adam Smith, do site do Nobel. O feito do pesquisador da Universidade da Califórnia é ainda mais marcante diante de suas origens. Seus pais eram refugiados palestinos na Jordânia e mal sabiam ler e escrever, conforme ele mesmo conta. Enquanto compartilhava um pequeno cômodo com cerca de 15 integrantes da família e os animais que criavam, aos 10 anos ele entrou em uma biblioteca, abriu um livro aleatório e se encantou com a beleza dos modelos moleculares “de hastes e bolas” que viu. Quando foi para os Estados Unidos e pôde estudar, essa experiência continuava presente. “Não comecei com a intenção de resolver grandes problemas, eu queria construir coisas bonitas”, disse ele dentro de um avião prestes a decolar. “É uma jornada e tanto, a ciência permite isso – a ciência é uma grande força equalizadora no mundo”, avalia, pensando na trajetória até o Nobel.






