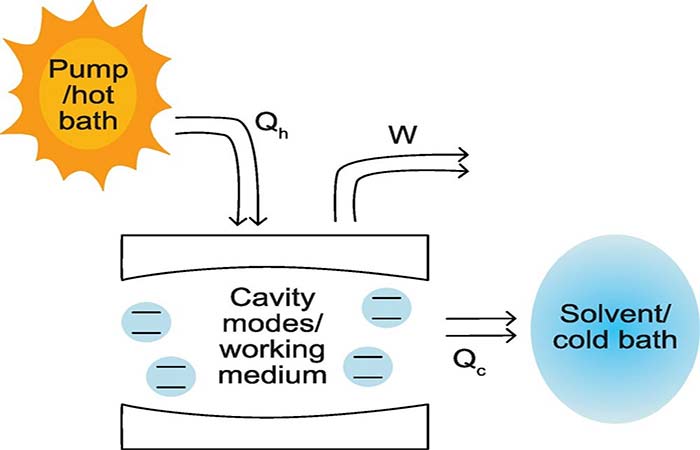Tuvalu: a história do país que está sendo abandonado porque vai afundar

11 mil pessoas moram neste pequeno arquipélago do Pacífico. Mas metade quer ir embora. Entenda por que o país é um dos símbolos do fenômeno da imigração climática
Tuvalu é um pequeno país da Polinésia, formado por nove ilhas e atóis, que fica entre a Austrália e o Havaí, no meio do Oceano Pacífico. Com seus singelos 26 km² de área, é um dos lugares mais remotos do mundo — os quatro voos semanais que chegam até o país só partem da vizinha Fiji, e a pista de pouso do aeroporto vira campo de futebol quando não tem avião chegando. Até a economia é inusitada: uma das principais receitas do PIB local é a venda de domínios “.tv” para os sites de emissoras de todo o mundo.
O principal método de pagamento do país é o dólar australiano em espécie, que precisa ser trazido de fora, já que há poucos caixas eletrônicos — os primeiros só chegaram por lá em 2025. Quase não há carros, que são difíceis de importar: no lugar deles, as motos povoam as ruas.
Mas tudo isso está prestes a desaparecer. As ilhas de Tuvalu estão apenas três metros acima do nível do mar, em média, e as mudanças climáticas estão rapidamente fazendo com que o oceano “coma” as beiradas de Funafuti, o atol onde se situa a ilha principal, Fongafale. Isso não é novidade: desde os anos 1980, os habitantes locais reportam uma maior incidência de ciclones e ondas anormais. Em 2004, uma repórter da Smithsonian Magazine visitou Tuvalu e observou: uma posição de artilharia construída pelos EUA na praia durante a 2ª Guerra agora estava no meio do mar, a seis metros da costa.
Passados 20 anos, a situação se agravou muito mais do que os locais (vários deles, pouco propensos a acreditar no aquecimento global) poderiam prever. Em 2021, o então primeiro-ministro, Simon Kofe, fez via streaming um discurso na Conferência do Clima da ONU que correu o mundo. Na mensagem, ele aparece no meio da água, de terno, com as pernas quase submersas. “Não podemos esperar por discursos enquanto o mar está subindo ao nosso redor o tempo todo”, disse. “Estamos afundando”.
Migração climática: uma nova realidade
Um relatório da Nasa de 2023 apontou que o nível do mar em Tuvalu subiu 15 cm ao longo das três décadas anteriores e deve continuar subindo pelo menos 5 mm por ano. Com isso, a maior parte da área habitável das ilhas, incluindo equipamentos críticos de infraestrutura, ficará abaixo do nível da maré alta até 2050. Essas pessoas, que hoje já convivem com secas prolongadas (a chuva é a única fonte de água doce) e enchentes causadas pela água do mar (que inviabiliza a agricultura) simplesmente não terão mais onde viver.
Em 2025, aconteceu algo inédito: o pequeno país firmou um acordo de imigração com a Austrália, que topou receber permanentemente 280 habitantes da ilha a cada ano. Quem estivesse interessado poderia se inscrever e as vagas seriam sorteadas entre os participantes.
As inscrições foram abertas no dia 16 de junho e encerradas em 18 de julho. Mais de 5,1 mil pessoas se inscreveram, ou seja, praticamente a metade dos 11 mil habitantes do país. “Esse foi o primeiro acordo deste tipo no mundo, oferecendo um caminho para a mobilidade com dignidade conforme os impactos climáticos pioram”, disse um representante do governo australiano em comunicado enviado à revista New Scientist.
Ao longo dos anos, o governo de Fiji fez várias propostas de migração sistemática para os habitantes de Tuvalu, sempre recusadas pelo governo local. Em 2019, uma reportagem do jornal britânico The Guardian visitou Tuvalu, entrevistou os locais e observou que quase todos diziam que queriam permanecer ali, independentemente de quão grave a situação ficasse. “A política oficial do governo de Tuvalu é ficar na ilha, ‘aconteça o que acontecer’”, dizia o texto. Em seis anos, é possível ver o quanto esse sentimento mudou.
“Sem dúvida, o caso da ilha de Tuvalu é muito característico do que está acontecendo agora. Aumentou muito a temperatura dos oceanos, o que faz o nível do mar subir, aumentou muito o derretimento das geleiras, isso faz o mar subir”, resume Carlos Nobre, professor e pesquisador brasileira que é um dos cientistas climáticos mais respeitados no mundo. “O que está acontecendo não é só aumento do nível do mar, são também os ventos muito fortes, as correntes oceânicas que invadem essas ilhas e ainda as ressacas, causadas por tempestades muito fortes em cima do oceano. Tem muitas ilhas naquela região do Pacífico que irão sofrer o mesmo. Certamente, até 2050, essas populações terão que ir para lugares mais seguros”, diz.
De fato, Tuvalu não é a única que pode acabar debaixo d’água. Outras ilhas e arquipélagos, como Kiribati, Maldivas e Ilhas Marshall também estão ameaçadas. Essas mudanças, diz Nobre, acontecerão mesmo que o mundo consiga diminuir suas emissões de gases de efeito estufa. “Mesmo que nós tenhamos total sucesso em combater as emergências climáticas, em reduzir rapidamente as emissões, o que está muito difícil, as mudanças climáticas vão continuar por muitas e muitas décadas”, afirma o cientista.
E as ilhas do Pacífico não são nem mesmo a expressão mais grave dos casos de migração climática. Muitos países no norte da África já enfrentam essa crise, com as populações locais, que dependem da agricultura, tentando fugir das fortes secas. “São milhões de pessoas que, muitas vezes, cruzam o Mar Mediterrâneo [para fugir para a Europa], morrem durante o trajeto. E aí tem essa enorme disputa, porque muitos países da Europa não os aceitam e os expulsam de volta. Essa é uma questão geopolítica muito importante, a de criar mecanismos que possam proteger a vida de milhões de pessoas afetadas por esses fenômenos extremos”, pondera Nobre.
O colonialismo do carbono
A questão não é só climática ou humanitária — é também econômica. Em 2019, o embaixador da Austrália nos EUA, Kevin Rudd, sugeriu oficialmente que o país do Oceania oferecesse residência fixa aos 75 mil habitantes de Tuvalu, Kiribati e Nauru (outras ilhas do Pacífico) em troca de controle sobre seus mares, suas Zonas Econômicas Exclusivas (ZEEs) e suas áreas de pesca.
O então ministro de Tuvalu, Enele Sopoaga, criticou fortemente a sugestão. “Certamente, [nós] não seremos subjugados em algum tipo de mentoria colonial, esses dias acabaram. Somos um país completamente independente e de forma alguma irei comprometer nossos direitos aos recursos de pesca e nossos direitos aos recursos próximos”, disse ele.
Sopoaga ressurgiu em 2025 para criticar o novo acordo, que chamou de “neo-colonialismo”. Segundo ele, os termos do acordo com a Austrália foram combinados às escondidas, distantes dos olhos do povo e alheios ao processo parlamentar. Um alvo especial de críticas é o Artigo 4, que dá à Austrália o poder de veto sobre decisões de Tuvalu relacionadas à segurança nacional.
De fato, o chamado “colonialismo do carbono” está virando um problema, com nações se aproveitando das mudanças climáticas para forçarem seus interesses políticos ou econômicos sobre outras. No Quênia, por exemplo, o Serviço de Florestas do Quênia (KFS), um órgão criado para fins de conservação e inicialmente financiado pelo Banco Mundial, foi acusado de cometer abusos contra o povo indígena Sengwer. Sob o pretexto de preservar a floresta de Embobut, o KFS realizou despejos forçados, destruição de casas e prisões arbitrárias, levando a sérias denúncias de violações de direitos humanos.
Em Uganda, uma companhia norueguesa comprou terras nos distritos de Bulakeba e Kachung como parte de uma iniciativa de compensação de carbono. Na prática, a empresa limitou o acesso à terra pela população local. Neste artigo científico, publicado na revista The Lancet Planetary Health, os autores argumentam: “Sem reconhecimento político sobre os povos indígenas dentro de uma determinada região, geralmente existe a ausência de direitos sobre a terra indígena, o que coloca esses povos sob o risco de despejo forçado para dar espaço a esforços de conservação”. O artigo cita casos na Jordânia, no Congo, na Tailândia e na Amazônia.
E quem fica?
Nem todos os habitantes de Tuvalu querem deixar a ilha. E quem fica faz o que pode: na década passada, o país lançou o Projeto de Adaptação Costeira de Tuvalu (TCAP). A primeira fase, que começou em 2017 e foi concluída em 2024, construiu 7,8 hectares de terras elevadas e resistentes a inundações e reforçou 2,78 km de litoral por meio de muros de contenção, espigões e barreiras naturais.
A segunda fase, chamada de TCAP II, recebeu financiamento adicional de US$ 17,5 milhões dos governos de Austrália, Nova Zelândia e EUA. Ela já está em obras e tem dois objetivos principais: proteger cerca de 800 metros de costa vulnerável na margem sul de Funafuti e criar cerca de 8 hectares de terra elevada e segura. A conclusão prevista é para algum momento de 2026.
Além disso, o governo local anunciou, em 2022, um Plano de Adaptação a Longo Prazo, que pretende criar o “Te Lafiga o Tuvalu” (O Refúgio de Tuvalu), para que a população consiga permanecer para muito além do ano 2100. O projeto prevê 3,6 quilômetros quadrados de terra elevada e segura, fornecimento sustentável de água, maior segurança alimentar e energética e espaço para expansão das áreas cívicas e comerciais, incluindo repartições públicas, escolas e hospitais. Toda a população seria realocada para a nova área elevada, enquanto a área atual seria deixada para a vegetação — que, posteriormente, seria completamente retirada para que o solo pudesse ser elevado e depois replantada.
Tanto o plano de imigração quanto o de elevação e proteção do solo têm seus problemas, mas o fato é que ficar parado não é uma opção para Tuvalu. As mudanças climáticas estão aí e o tempo para pedir prevenções já passou — agora, é preciso lidar com a realidade.